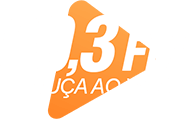Desde que a pandemia começou, cientistas de todo o mundo estão em busca de um medicamento que possa combater a covid-19, testando substâncias que já existem para uma possível ação contra o novo coronavírus. A causa é extremamente nobre: uma cura, ou pelo menos um tratamento auxiliar, podem ser descobertos. O problema é que, em um cenário de emergência, acontecem atropelos na ciência em busca de uma saída milagrosa para a pandemia – e aí as evidências científicas para se estabelecer um tratamento acabam sendo deixadas de lado. Mas, afinal, o que significam essas evidências e como se chega nelas?
O processo varia um pouco de contexto para contexto, mas, em geral, a ciência possui uma ferramenta considerada bastante eficaz para testar se um medicamento funciona ou não. Ela se chama “estudo clínico randomizado controlado“, conhecido pela sigla em inglês RCT. Esse tipo de estudo possui uma série de regras que ajudam a se certificar de que os resultados de fato mostrarão se o remédio testado funciona ou não. Nesses estudos, outras variáveis dos pacientes são controladas para não interferir (ou interferir o mínimo possível) nos resultados.
Funciona assim: primeiro, a equipe de cientistas precisa de pessoas doentes – quanto mais, melhor. Essas pessoas então são dividas, aleatoriamente, em dois grupos. O fato de ser aleatório é muito importante (o “randomizado” se refere a isso, já que “random” é aleatório em inglês). Isso é essencial porque escolher a dedo quem fica em cada grupo pode gerar fatores de confusão que atrapalham a interpretação resultados. Se um grupo tem muitas pessoas idosas, por exemplo, e a doença em questão se manifesta de forma diferente de acordo com a idade, os resultados das duas amostras provavelmente serão diferentes por causa disso, e não por causa da ação do remédio.
Depois da divisão, um grupo receberá o medicamento testado, enquanto outro grupo, chamado de “controle”, recebe um placebo (uma pílula sem efeito no corpo, por exemplo). É sempre preferível que isso seja feito de um modo chamado “duplo-cego” – ou seja, que nem os pesquisadores e nem os pacientes saibam qual grupo está recebendo o quê (obviamente, os pesquisadores têm acesso a essa informação depois, na hora de interpretar os resultados). Isso impede que os grupos sejam tratados de forma diferente pelos pesquisadores. Essa diferença de tratamento pode influenciar até o efeito placebo nos pacientes.
Seguindo esses passos, é possível comparar, após o fim do período de tratamento estabelecido, os dados dos diferentes grupos. Se o grupo que recebeu o medicamento teve resultados significativamente melhores, é muito provável que esses efeitos positivos possam ser atribuídos ao medicamento, já que as outras variáveis foram controladas. Se não houve muita diferença entre as amostras, o medicamento também não fez muita diferença, e provavelmente é ineficaz. Também há a possibilidade do grupo medicado ter resultados piores, o que indica que os efeitos colaterais do remédio podem ser ainda piores que a própria doença. É por isso que existem contra indicações de alguns medicamentos dependendo do quadro de saúde do paciente.
Se esses passos são suficientes para provar que um medicamento funciona, então o processo é fácil, certo? Bem, não exatamente. É mais fácil descrever um estudo RCT do que de fato colocá-lo em prática. Isso porque existem muitos detalhes a serem levados em conta. O primeiro deles é a amostragem: ela precisa ser grande o suficiente para resultar em números estaticamente significativos. Um estudo feito com dezenas de pessoas obviamente tem menos força que um feito com milhares, mesmo se seguirem exatamente os mesmos passos de controle. Em meio a uma pandemia e lidando com uma doença possivelmente fatal, o recrutamento de pacientes é ainda mais complicado.
Além disso, é difícil controlar todas as outras variáveis para garantir que a única diferença entre os grupos é receber o medicamento ou não. Isso é especialmente verdade para a covid-19, uma doença emergente sobre a qual ainda sabemos pouco. Não temos certeza, por exemplo, sobre como características como sexo, raça, tipo sanguíneo, diferenças genéticas, hábitos de saúde, condições pré-existentes e outros fatores atuam na doença. Sabemos apenas que há pessoas que desenvolvem casos leves e assintomáticos, enquanto há outras que, por motivos ainda pouco compreendidos, apresentam casos gravíssimos.
É por isso que uma amostragem significativa e uma randomização bem feita são consideradas essenciais para a ciência: se o grupo do placebo e o grupo do medicamento apresentarem resultados diferentes, mesmo que cada grupo tenha características diversas dentro de si, isso indica que a disparidade muito provavelmente é resultado do uso do remédio.
Para entender melhor essa lógica, é só pensar em um exemplo contrário: imagine que um grupo de pessoas relativamente mais jovens receba um medicamento, e um outro grupo de pessoas mais velhas receba um placebo. Se, no final dos testes, o primeiro grupo apresentar uma taxa maior de recuperação que o segundo, pode ser que o medicamento seja eficaz – mas também pode ser que o próprio sistema imunológico daquele grupo tenha conseguido combater melhor o patógeno do que o segundo grupo. Nesse caso, o medicamento não fez diferença, apesar do primeiro grupo ter se recuperado perfeitamente bem.
Por fim, há vários outros detalhes que variam dependendo do estudo, doença e medicamento. Alguns deles são a dose utilizada, o tempo do tratamento, quais outros cuidados serão administrados juntamente com o medicamento, entre outros. Isso tudo deve ser levado em conta para verificar se um estudo de fato foi bem feito ou não.
Exatamente por ser quase impossível fazer um estudo 100% perfeito é que a ciência utiliza uma outra ferramenta para minimizar os erros. É a famosa revisão por pares: um processo em que a pesquisa é lida e analisada por outros cientistas que entendem da mesma área antes de ser publicada. Esses outros pesquisadores vão avaliar se o estudo foi bem feito e se seus resultados de fato são relevantes para afirmar algo sobre a eficácia do medicamento ou não. Em geral, espera-se que revistas científicas mais respeitadas tenham uma análise mais criteriosa, a fim de selecionar apenas os artigos de alta qualidade.
Resumindo: a melhor maneira de se provar se um medicamento funciona ou não é usando um estudo clínico randomizado controlado, preferencialmente duplo-cego e com placebo, que tenha uma amostragem significativa e revisado por pares e publicado em uma revista científica. Mas não é só isso. Na verdade, não basta um, e sim vários estudos do tipo mostrando a eficácia (ou não) de um medicamento. É algo demorado e criterioso, mas é a melhor maneira que a ciência encontrou para minimizar o viés humano e chegar a um resultado objetivo, que de fato faça uma diferença. Afinal, qualquer pesquisador pode torcer para que o seu experimento apresente resultados inovadores, seja comprovando que um medicamento funciona ou que não funciona – mas esse desejo não pode se refletir nos resultados.
Os testes de medicamentos para a Covid-19
Na atual pandemia, temos vários exemplos desse processo. Em junho, o projeto britânico RECOVERY, ligado à Universidade de Oxford e voltado para testar tratamentos contra a Covid-19, publicou um RCT sobre o uso de dexamestasona. O medicamento é um corticoide, e a pesquisa avaliou sua eficácia no tratamento de pacientes com Covid-19 em estado grave. A conclusão dos pesquisadores foi de que o medicamento consegue reduzir significativamente a letalidade da doença entre pessoas que estão internadas e com sintomas respiratórios sérios. O estudo teve uma amostragem bastante significativa, com mais de seis mil pacientes, e seguiu todas as regras citadas aqui. Os resultados foram bem aceitos e elogiados por cientistas de todo o mundo, ainda que com cautela, pois estamos tratando de uma doença nova. Pesquisas posteriores, algumas recentes, reafirmam a descoberta britânica, assim como revelam mais detalhes sobre possíveis efeitos colaterais da droga.
Outro caso, ainda mais famoso, é o da Cloroquina e Hidroxicloroquina. Você já deve ter ouvido falar que não há evidências científicas de que os medicamentos funcionem contra o Coronavírus – seja sozinhos ou combinados de outras drogas. O “sem evidências” significa que não há nenhum RCT grande e bem feito com as substâncias que mostre seus resultados positivos.
Na verdade, foram feitos RTCs com os medicamentos, mas os estudos não mostraram diferenças entre o grupo que tomou o medicamento e o grupo que não tomou. O projeto RECOVERY, o mesmo que mostrou os resultados com a dexamestasona, fez um RTC com mais de 4,5 mil pacientes com hidroxicloroquina, e chegou à conclusão de que o medicamento não tem eficácia no tratamento. O mesmo projeto descartou o uso da combinação de antivirais lopinavir + ritonavir em um outro RCT.
Esse estudo, mesmo seguindo as regras mencionadas aqui, não seria tão decisivo se fosse o único a mostrar esses resultados. Afinal, o conhecimento científico se constrói com um conjunto pesquisas, com diferentes amostragens e métodos, para chegar em uma conclusão objetiva. Foram conduzidos outros RCTs nos Estados Unidos, Espanha e diferentes países que corroboram com os resultados.
Também foram feitas outras pesquisas avaliando o uso da hidroxicloroquina contra o coronavírus que não se encaixam no padrão RCT. Um deles é o artigo feito pelo Sistema de Saúde Henry Ford, em Detroit, Michigan, que mostrou resultados positivos para o medicamento. Nesse caso, foi feito um estudo observacional retrospectivo. Os pesquisadores analisaram casos de pacientes que já haviam sido tratados há algum tempo com diferentes medicamentos. Como não foi um estudo controlado, não houve separação dos pacientes em grupos, nem randomização de idades, condições de saúde e outras variáveis antes de se iniciar o tratamento.
Isso não invalida o estudo, é claro: quanto maior o número de pesquisas de qualidade, mesmo que com métodos diferentes, mais robusta fica a bagagem de conhecimento científico. Os estudos não-RCT são bons para gerar hipóteses, e não comprová-las. Na verdade, nem os próprios autores do estudo se propõem a isso. Na conclusão do artigo, os pesquisadores escrevem que “nossos resultados também exigem confirmação adicional em estudos prospectivos, randomizados e controlados”, como foi feito em outras pesquisas. Para a aprovação de um novo medicamento, por exemplo, são necessários ao menos dois RCTs completos com resultado positivo.
Também não significa que outros tipos de estudo além dos RCTs sejam irrelevantes. Pelo contrário: RCTs são a última etapa, considerados a “prova final” de que uma terapia funcione, mas não surgem do nada. Em geral, eles testam tratamentos que já tiveram bons resultados em pesquisas anteriores, como estudos observacionais retrospectivos ou mesmo feitos em modelos animais ou em laboratório. Mas esses tipos de estudos, apesar de importantes, são indicações da eficácia de um medicamento, e não provas.
Centenas de medicamentos estão sendo testados atualmente no combate à Covid-19. Na maioria dos casos, os resultados positivos in vitro acabam não se reproduzindo em humanos. Isso acontece não só com a Covid-19, mas também com zika, aids, gripe e outras doenças. Por outro lado, eles geram as hipóteses que a ciência precisa para progredir. Os estudos controlados, randomizados, duplo-cegos, com placebo e revisados por pares são o que se aproximam ao máximo do modelo perfeito e podem fornecer as comprovações dessas hipóteses. Felizmente, temos equipes de cientistas em todo o mundo buscando esse nível de excelência em suas pesquisas para encontrar uma solução eficaz contra a Covid-19.
Participe de um dos nossos grupos no WhatsApp e receba diariamente as principais notícias do Portal da Educadora. É só clicar AQUI.